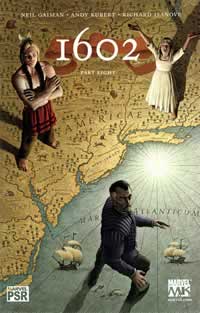Por Pedro Zambarda de Araújo
Autor de Albert Camus: um elogio ao ensaio, Manuel da Costa Pinto é jornalista da Folha de S.Paulo, além de trabalhar na TV Cultura. Destacando-se dentro da academia, escolheu abordar o ensaio nesse livro e mestrado sobre o escritor franco-argelino Albert Camus, dentro do Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A entrevista que se segue, feita no dia 2 de setembro, é um ponto de vista particular sobre a obra de Camus e um profundo estudo sobre as origens de sua escrita e pensamento.Pedro: Começaremos uma entrevista aqui com Manuel da Costa Pinto, especialista na questão do ensaio em Albert Camus. Manuel, o que te levou a escolher Camus como tese de mestrado para ser publicada, posteriormente, em livro (Albert Camus: um elogio ao ensaio)? Como a carreira ensaísta de Albert Camus despertou curiosidade em você?Manuel da Costa Pinto: Não fui ler Camus para fazer mestrado ou doutorado. Eu leio os livros dele desde os 15 anos de idade, mais ou menos. Fundamental foi uma leitura de Horácio Gonzalez, em um livro brevíssimo e muito agudo sobre uma obra de Albert Camus, a peça teatral
Os Justos. Isso que me instigou mais a ler a obra do escritor franco-argelino, tanto ficcional quanto ensaística. Depois das leituras, Camus assumiu o posto de segundo escritor que eu mais gostava, apenas atrás do que mais admiro, Fiódor Dostoiévski. Por isso, meu projeto inicial no mestrado era fazer uma relação direta entre a obra de Albert Camus e

Dostoiévski. O tema era muito específico. Camus era apenas um leitor da obra do russo, em suas citações no ensaio
O Mito de Sísifo abordando o personagem Kirilov, de
Os Demônios, além de outra menção no livro
O Homem Revoltado ao Ivan Karamazov da tragédia
Os Irmãos Karamazov. Ele também encenou uma adaptação da própria obra
Os Demônios de Dostoiévski, uma peça chamada
Os Possessos.
Pedro: Foi uma das poucas peças que ele atuou e dirigiu, certo?MCP: É, e foi bem jovem que ele fez isso. Então, considerando que Albert Camus cita Dostoiévski em seus dois maiores ensaios,
O Mito de Sísifo e
O Homem Revoltado, a presença do russo é destaque. Além do que eu já disse, há também outra obra dele que é referencia direta a Dostoiévski, o monólogo crítico-reflexivo
A Queda, cujo protagonista e cuja forma de narrar remetem a uma obra chamada
Memória do Subsolo. Dessa forma, é interessante ver que ambos os escritores revelam uma dimensão ensaísta. Não pensaram o romance apenas como uma narrativa de trama, mas como um pensamento da realidade de seu tempo. Essa é uma característica do romance do século XIX que sobrevive com os existencialistas do século XX, embora Camus não fosse propriamente um existencialista. Escritores dessa geração, na França, fizeram uma prosa metafísica, reflexiva, especulativa e conceitual. Nesse contexto, a relação entre Dostoiévski e Camus muito me interessava para a pesquisa. Eu ia fazer uma tese sobre os dois, mas por sugestão de João Alexandre Barbosa, um dos maiores ensaístas brasileiros e amigo meu, falecido há dois anos, mudei a pesquisa para o gênero ensaio. Teve com foco o ensaio de tradição francesa, que é específica, vinda de autores como Montaigne e Chamfort, que são dos séculos XVII e XVIII e de uma tradição do pessimismo clássico, que se vale do emprego de aforismas ou aforismos, ou seja, fragmentos da anatomia da moral e dos costumes. Não por acaso, Jean-Paul Sartre em sua crítica ao romance
O Estrangeiro insere Albert Camus exatamente nessa tradição de ensaístas. E eu achei muito rico isso, porque a idéia do romance de Camus acaba sendo reduzido a obras filosóficas. O estudo do ensaio me fez compreender que não é assim que se define a obra deles, porque eles não são filósofos que decidem escrever romances. Não é uma mera ilustração o ensaio, mas existe nele uma forma de pensar a realidade que é muito ligada à obra ficcional. É um ceticismo, sem usar o significado mais forte e radical do termo, que, dentro da reflexão moderna, deforma o mundo com caráter intencional. Na obra de Camus, está presente a idéia que toda a reflexão é, simultaneamente, uma invenção, ao contrário da fenomenologia forte em Sartre. De certa forma, é como se você tivesse um pé atrás nas concepções filosóficas e não aceitasse tudo como verdade, tendo uma espécie de relativismo principalmente considerando o imaginário por trás da idéia. Esse imaginário deforma a realidade.
Pedro: E como essa forma de pensar age em Albert Camus?
MCP: Essa perspectiva, no caso de Camus, está muito ligada a invenção ficcional dele. Então, o melhor exemplo nesse caso é quando Albert Camus fala sobre o conceito de absurdo nos textos, sobretudo
O Mito de Sísifo que tem o subtítulo “o ensaio sobre o absurdo”. No entanto, qual é a melhor ilustração sobre o absurdo? Os melhores exemplos não são quando ele fala da “situação do homem diante de seu mundo”, mas estão nas representações ficcionais. Mersault (de
O Estrangeiro), por exemplo, é um grande herói absurdo. Dessa forma, há uma comunicação incessante entre a ficção e o ensaio, um alimentando o outro. O romance tem origem na idéia primordial do absurdo, mas o próprio absurdo, formado conceitualmente, é baseado numa personagem literária. É um círculo que se alimenta reciprocamente e que me interessou muito. Camus torna o absurdo uma reflexão sobre a condição humana que depois se desdobra numa ética política, de conduta, em
O Homem Revoltado.
Pedro: O que você fez, especificamente, nesse trabalho?MCP: Eu procurei, nesse trabalho, fazer uma análise do ensaio como gênero literário. Não sou filósofo, portanto fiz em teoria literária. Meu trabalho foi sobre a singularidade presente no gênero ensaio. Uma coisa a ser levada em consideração é que a gente chama de o ensaio todo texto reflexivo e curto. Dessa forma, você pode considerar ensaio determinadas crônicas de jornal, como as que o Marcelo Coelho escreve na Folha.
Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre ou
Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Hollanda são ensaios de interpretação do Brasil. Sim, ensaio é isso e está correto. Ele é um gênero de reflexão que não é conceitual, nem técnico, é livre, mais pessoal. No entanto, generalizar o ensaio para qualquer gênero ficcional põe a perder a tradição ensaística que é francesa e específica. Ela que vem de Montaigne, passando por Camus e chega até um Roland Barthes, com uma reflexão moral e altamente literária. É prosa literária de não-ficção, segundo um crítico influente chamado Alexandre Eulálio. Uma prosa que é concentrada, mas que não inventa personagens. Apesar dessa definição, ela ainda não é suficiente para caracterizar a tradição francesa. No ceticismo de Montagne, por exemplo, há a falta de acesso ao mundo que enuncia, simultaneamente. De certa forma, esse ensaio específico anuncia a falência da filosofia pela incapacidade de apreender o mundo. O ensaísta percebe que o mundo é opaco e...
Pedro: Subjetivo?MCP: É. O mundo é irredutível ao conceito. O que faz com que esse conceito não seja o conceito no sentido clássico do termo, mas sim uma invenção da realidade que você descreve, sem cair no relativismo total. Isso faz parte do jogo do ensaísta francês, tendo uma reflexão que pretende falar da realidade e mostra como ela é fugidia. O próprio movimento do ensaio em suas nuances mostra uma narrativa do “eu” diante da realidade, jamais apreensível. Por isso esse é o tema do meu livro, que é um livro sobre o gênero ensaio. Numa primeira parte, ele tenta definir a tradição ensaística e, num segundo momento, definir como Camus se insere nesse gênero, não sendo casual o fato dele ser, simultaneamente, um ensaísta e um ficcionista ao mesmo tempo.
Pedro: Você já respondeu muitas perguntas nessa resposta (risos). Quais outros pesquisadores sobre Camus você conhece na região de São Paulo ou até mesmo no Brasil?MCP: Pesquisadores brasileiros? Além do Horácio Gonzalez, atual dono da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que, mesmo sendo argentino, escreveu aqui, no Brasil há pouquíssimas pessoas que escreveram sobre Camus. Há um belo trabalho comparando
Vidas Secas de Graciliano Ramos com
O Estrangeiro de um autor chamado Lorival Holanda.
Pedro: Por essa sua resposta eu gostaria de perguntar por que Albert Camus não tão lido? Você encontra motivos para não o ler aqui? Mesmo depois da Universidade Federal da Bahia ter encenado uma de suas peças, Calígula (em 1961), há motivo? Ele até mesmo viajou ao Brasil, conforme o livro Diário de Viagem, editado pela Record. Como explicar esse esquecimento dele?MCP: É fato que toda essa geração de 1950-60, incluindo Camus, ficou muito marcada pelas questões políticas daquele momento. Isso marcou, sobretudo no caso dele na ruptura com Sartre, uma imagem de escritor idealista do ponto de vista político e ético, além de insuficiente para pensar a realidade pós-1970. Ele foi um pouco estigmatizado por não ser um escritor de esquerda, estigmatizado também por se encontrar numa posição delicada durante a Guerra da Argélia, mesmo sendo franco-argelino. Era um momento que “não ser de esquerda” significava ser de direita, que “não ser colonialista” significava “não ser francês” ou “não ser revoltado” significava ser contra os argelinos, uma posição de hesitação. Ele jamais via o povo francês como opressor, mas como formador da Argélia, mesmo sendo colônia. Ele era conciliatório. Hoje isso não é tão fácil de compreender, até mesmo porque são as esquerdas que são mais criticadas. Houve um momento da história ideológica da América Latina em que um escritor que não era alinhado a esquerda, não era um “companheiro de viagem dos comunistas”, era necessariamente um conservador. Esse fato não corresponde a verdade no caso de Camus, mas acabou prejudicando a recepção dele. Existe uma razão também de ordem filosófica, pois o existencialismo passou a ser encarado como uma “moda” em certo momento, o que é um equívoco, pois o Camus não é existencialista. Apesar dessa sucessão de equívocos, essas coisas acabaram obscurecendo a figura dele no cenário intelectual. Um terceiro elemento, que me parece o mais pertinente de todos, é que Albert Camus era um escritor clássico num certo sentido. Momento de mudanças drásticas no experimentalismo literário e estético, ele era um escritor que não correspondia a essa demanda ou expectativa de obra transgressiva. Ele era mais clássico e menos ousado do ponto de vista formal, principalmente na dramaturgia, por exemplo. Além disso, revelou-se nos anos 1960 e 1970 o
noveau roman francês que trouxe autores experimentais, muito mais experimentais que os existencialistas, ou seja, que Camus e Sartre. Entre eles está Samuel Beckett, que era dramaturgo de origem irlandês, mas escrevia tanto em inglês quanto em francês. Dessa forma, os autores da década de 1950 foram vistos como menos inventivos. Apesar disso, ele foi um dos escritores mais enigmáticos da história da literatura francesa da primeira metade do século XX.
Pedro: E isso mudou?MCP: Bom, mas é claro que esse julgamento estético estava muito enraizado pelo contexto político da época, fato que começou a ser revertido pelo fim da Guerra Fria nos anos 1980 e 1990. Essa nova configuração permitiu visualizar que Camus não era bem de direita, mas sim que era crítico quanto a história de maneira não ideológica. O fim das ideologias fez com que o estigma sobre Camus desaparecesse também. Ocorreu também uma redescoberta dele na revelação de um romance inacabado chamado
O Primeiro Homem, cujos manuscritos foram encontrados no corpo dele após o acidente de carro com Gallimard, seu editor. Ambos faleceram, Camus com apenas 47 anos. Essa revisão da obra de Camus traz a tona, em certo momento, uma legibilidade que não significa pertencer ao realismo do século XIX, mas sim dos romances que não cabem em uma realidade e cujas várias dimensões incompreensíveis a deixa fragmentada. A realidade pede uma literatura que não seja uniforme ou linear. Apesar disso, esta linearidade está presente em Albert Camus, mas é perceptível uma certa inverossimilhança que está nas entrelinhas. Não é tão explícito quanto os autores do noveau roman, que rompem com o tempo e o espaço, mas está presente no que há de inverossímil na narrativa desenvolvida em Camus, com fatores “perturbadores” do verossímil em
O Estrangeiro.
Pedro: Explique melhor.MCP: O personagem Mersault, por exemplo, escreve na forma de diário, o que é incompatível com sua própria narrativa. É um narrador que, apesar de parecer, não é o convencional do realismo. Na verdade, ele escreve em um “não tempo”, num instante e o próprio romance se desenrola numa soma de acasos, soma de instantes presentes. Isso é inventivo do ponto de vista do romance. Dessa forma não é, explicitamente, experimental a primeira vista. Não por acaso,
O Estrangeiro é a fonte do noveau roman, pelo menos segundo
O Grau Zero da Escrita, de Roland Barthes. É um romance muito difícil de analisar nos dias de hoje, até porque ele é aparentemente uma obra de um personagem que tem uma psicologia, uma interioridade, e nada disso acontece. Se você for ler com um olhar mais apurado, você vai ver que o Mersault é como se fosse uma entidade mítica, que perambula pelas ruas de Argel naquela vida miúda e banal que tem uma dimensão trágica, chamada por Sartre de “tragédia solar”. Um dos artifícios mais interessantes que ele fez foi dar a uma vivência banal um ritmo e a alegoria de uma tragédia grega antiga. No caso de outro romance crônico de 1947,
A Peste, ele narra como se fosse uma coluna jornalística, mas desdobrando os personagens em figuras simbólicas e muito alegóricas. Portanto, a prosa de Camus oscila entre o natural e o inverossímil, no sentido que não corresponde às categorias convencionais que temos – tempo, espaço, linearidade e compreensão. Ele faz isso porque atende, e isso eu acho interessante, não ao desejo de ser experimental ou alinhado a idéias estéticas, mas que obedece a realidade do absurdo. O absurdo, o gratuito, o incompreensível, torna equivalente todos os pontos de vista, com acontecimentos em seqüência que geram, simultaneamente, êxtase e morte.
Entrevista continua na segunda parte. 








 A exibição emocionou, até mesmo, José Saramago.
A exibição emocionou, até mesmo, José Saramago.